A carioca Camila Figer Weinberg, de 42 anos, morava há 15 em Higienópolis, bairro com forte tradição judaica em São Paulo, até se mudar com a família para Israel, em agosto. Mesmo em uma parte de classe média alta da maior cidade do Brasil, ela temia a violência.
“Tinha medo de sair do portão do prédio”, relata. Em Ra’anana, cidade a cerca de 20km ao norte de Tel Aviv, conseguiu encontrar a tranquilidade que queria para a infância dos filhos — um menino de 10 e uma menina de 8 anos.
Em setembro, duas semanas depois de as aulas começarem, eles já iam para a escola sozinhos.
Camila não é a única que comprou uma passagem só de ida para o país no Oriente Médio, que é pouco maior em área que o estado de Sergipe e tem cerca de 9 milhões de habitantes.
Segundo estimativas obtidas junto ao Escritório Central de Estatísticas de Israel, o número de brasileiros que fazem aliá (palavra hebraica que significa “subida”, usada para descrever a volta definitiva de judeus ao país) vem aumentando: em 2014, eram 285. Em 2018, esse número cresceu para 668 – e bateu recorde em 2017, com 741 olim (novos imigrantes).
Até o ano passado, cerca de 11,2 mil cidadãos israelenses eram nascidos no Brasil. Se considerados aqueles que têm pelo menos o pai ou a mãe vindos daqui fazem o número de brasileiros em Israel crescer para mais de 25 mil pessoas.
A maior parte dos brasileiros no país está em Jerusalém — são 2,5 mil — e em Tel Aviv, 2 mil. (A cidade de Jerusalém é considerada por Israel como sua capital, mas não é reconhecida dessa forma pela ONU; a entidade propõe classificá-la sob um status internacional especial).
Mas o levantamento do escritório israelense mostra que imigrantes vindos do Brasil estão presentes em pelo menos outros 126 lugares. Um deles é Ra’anana, para onde Camila se mudou com a família. Até o ano passado, estima o escritório israelense, 873 brasileiros moravam ali — a quarta maior quantidade no país. Desses, 630 eram nascidos no Brasil, terceiro maior número em Israel.
Para Marcus Gilban, um dos coordenadores da comunidade brasileira na cidade, a emigração brasileira para Israel, e para Ra’anana em particular, tem um motivo central: busca por qualidade de vida.
“Qualidade de vida nas coisas mais simples que existem — poder caminhar na rua, falar ao telefone na rua. A gente no Brasil costuma ter a visão de que [Israel] é um país que está em guerra, quando é exatamente o contrário: aqui é um país muito seguro no dia a dia”, afirma.
O próprio Marcus trocou o Rio de Janeiro por Ra’anana há 3 anos, junto com a esposa e os dois filhos. Apesar de ter cidadania portuguesa, a família sentiu que o país do Oriente Médio lhes daria uma melhor sensação de estar em casa.
“Poderíamos, sim, ter emigrado para a Europa, mas o sionismo falou mais alto. Israel é a nossa casa e aqui queremos criar nossos filhos, com valores judaicos plenos, em segurança, com qualidade de vida”, diz Marcus, que tem 42 anos e trabalha com marketing empresarial e jornalismo.
A também carioca Karen Balassiano, de 41 anos, resolveu emigrar para Israel por um sentimento semelhante ao de Marcus — de ir para casa. A brasileira já morava há 12 anos na França, mas, no final de julho, deixou o país com o marido — que é francês e também judeu — e os dois filhos, por causa do antissemitismo crescente.
“Na França, meu filho [de 8 anos] tinha medo de falar que era judeu. Talvez a gente tenha passado esse medo pra ele, mas ele não falava que era judeu”, relata.
“Cada vez que alguém perguntava para onde ele ia se mudar, ele falava uma cidade diferente, Londres, não falava que era Israel. Aqui ele é livre, usa a quipá no Shabat, na sinagoga”, diz Karen, que trabalhava em uma empresa farmacêutica na França.
Foto de um homem usando uma quipá em Berlim, na Alemanha. — Foto: Michele Tantussi/Reuters
A quipá é uma peça de vestuário tradicional que homens judeus usam na cabeça. Já o Shabat é o nome do dia de descanso semanal do judaísmo, que começa ao pôr do sol da sexta-feira e termina ao pôr do sol do sábado.
A família de Karen escolheu Ra’anana por ali haver muitos franceses – só depois é que ela descobriu que também havia muitos brasileiros. Na verdade, a cidade tem um caráter internacional bem próprio: 20% dos moradores da cidade, segundo dados da prefeitura, são imigrantes de língua inglesa.
Camila também se sente mais à vontade no país. Ela relata que ninguém chegou a ser agressivo com ela, no Brasil, por ser judia, mas ouviu piadas sobre estereótipos relacionados a judeus. A brasileira sempre pensou em morar fora, e considerava ir para os Estados Unidos, mas mudou de ideia.
“Somos judeus, Israel é onde a gente é bem-vindo, a gente é acolhido – tanto que o governo dá muitos benefícios pra quem resolve vir”, diz Camila.
E dá mesmo. O governo israelense custeia as passagens aéreas dos judeus que imigram para o país; ao chegar, já no aeroporto, eles são recebidos e levados a um local em que recebem documentos pessoais e um chip de celular. Quando deixam o aeroporto, são levados para casa também em transporte bancado pelo governo — e já são considerados israelenses.
“É um dos únicos países que acolhe imigrantes de braços abertos”, diz o paulista Allon Idelman. “Você já chega com os direitos e deveres de um cidadão comum”.
Allon Idelman com a família em Israel. — Foto: Arquivo pessoal/Allon Idelman
Fisioterapeuta e empresário de 41 anos, Allon está em Ra’anana há 2 meses e meio com a esposa e os três filhos. Quando a família chegou à cidade, relata, já havia comida na geladeira do apartamento que tinham alugado. “A comunidade acolhe muito. Eles estão muito preparados para receber imigrantes”, diz.
Ao desembarcar no país, quem chega tem a opção de ir para o próprio apartamento, como Allon, ou ser alocado em um merkaz klita, um centro de absorção de imigrantes onde se pode ficar por 6 meses. Apesar de não ser gratuito, o preço da estadia costuma ser bem menor que o de um aluguel comum.
O governo também mantém escolas intensivas de hebraico, chamadas de ulpan (no plural, ulpanim), que são gratuitas por no mínimo 5 meses depois da chegada. Com quatro horas e meia de aula por dia, a intenção é que o imigrante se concentre em aprender o idioma para, só depois, procurar emprego.
Também há uma ajuda de custo mensal em dinheiro por 6 meses, plano de saúde grátis por um ano, descontos na compra de carro e em atividades para crianças e vários outros benefícios.
Mesmo com as ajudas, Allon recomenda ter uma reserva financeira. “Qualquer mudança tem que ser muito bem planejada. Você tem que vir preparado para sobreviver pelos primeiros 6 meses a 1 ano, ter um pé-de-meia para poder estudar hebraico com calma”, alerta.
“Tem muita gente que chega aqui sem pé-de-meia e já tem que, logo de cara, trabalhar porque precisa do dinheiro, e acaba pegando um subemprego porque não tem a língua. Tem uma ajuda [financeira], mas é simbólica, não é nada que vai fazer sobreviver a família toda”, diz.
O valor mensal recebido muda de acordo com o tamanho da família. Em fevereiro deste ano, segundo dados do Ministério de Absorção do país, uma pessoa solteira recebia 2.628 shekels por mês durante seis meses (cerca de R$ 3 mil mensais).
Ascendência
Rafael Guanabara e a esposa, Silvia Benitah, com a filha, Laura, no aniversário de 2 anos dela. — Foto: Arquivo pessoal/Rafael Guanabara
Conforme a Lei do Retorno israelense, podem fazer aliá para Israel, além dos próprios judeus, os filhos, netos e cônjuges de judeus (mesmo que não sejam judeus) e os cônjuges, mesmo que não judeus, de filhos e netos de judeus.
O objetivo é não separar famílias e garantir que não judeus não sofram perseguição por ter origem ou parentesco judeu. (Como o judaísmo é uma religião matrilinear, só é considerado judeu alguém cuja mãe é judia).
O carioca Rafael Guanabara, de 39 anos, se beneficiou com a Lei do Retorno ao se mudar: apesar de não praticar a religião, seus avós paternos eram judeus. A esposa, Silvia Benitah, é judia — e frequentava a sinagoga quando criança. O casal foi para Israel com a filha, de 3 anos, em agosto de 2018.
Para comprovar o vínculo judaico, é preciso conseguir um documento assinado pelo rabino de uma sinagoga reconhecida por Israel, que ateste o pertencimento à religião. Em seguida, o interessado deve ir a uma entrevista na Agência Judaica local – entidade que coordena todos os processos de aliá ao redor do mundo. Rafael e Silvia pagaram R$ 300 pela entrevista de aliá familiar.
Ele e a esposa moram em Nahariya, no norte de Israel, a cerca de 10 km da fronteira com o Líbano. Apesar da proximidade com a fronteira hostil — o vizinho nunca reconheceu a existência do Estado judeu — Rafael afirma que a vida na cidade, que tem cerca de 57 mil habitantes, é tranquila.
“Esses conflitos, essas notícias que saem no Brasil, que saem em Israel também, isso fica muito concentrado nas fronteiras, onde não tem muita população próxima morando – com exceção de Gaza, que tem um kibbutz muito próximo”, diz.
Ra’anana tem a maior comunidade brasileira organizada em Israel — Foto: Lara Pinheiro/G1
“Mas, mesmo com isso tudo, a confiança nas forças de segurança é tão grande que não há mudança na rotina”, afirma. “Acontece, pontualmente, uma sirene, quando identificam algum ataque. As pessoas se protegem, e, no dia seguinte, é vida normal”, relata.
A decisão de emigrar para Israel surpreendeu os familiares do brasileiro, que previam um cenário de guerra. Essa também era a impressão inicial dele: foram dois anos de pesquisa e estudo sobre o país desde a ideia surgir até a família deixar de vez o Rio de Janeiro.
“Queríamos possibilidades de sair do Brasil de maneira que não fosse provisória, que não fosse condicionada a um visto limitado. “Aí chegamos a Israel”, explica Rafael. Hoje, ele trabalha em uma empresa que fabrica peças para uma companhia de defesa israelense.
Para desfazer os estereótipos sobre o novo país, Rafael criou, há um ano, um canal no YouTube onde narra a vida no país. Nos vídeos, ele diz que tenta se concentrar nos aspectos positivos de viver lá.
“Paro meia noite no sinal vermelho sem medo algum de que algo vá acontecer, porque não acontece”, relata. “Além da segurança, o que a gente veio procurar aqui foi o futuro da nossa neném. Tem algumas universidades aqui que são cotadas como as melhores do mundo. Alto nível de escolaridade, cultura elevada”, relata.
Preços altos
Nahariya, no norte de Israel. — Foto: Arquivo pessoal/Rafael Guanabara
Mas os benefícios vêm junto com um alto custo de vida. No centro de Israel, em torno de Tel Aviv, um apartamento de sala e 3 quartos pode custar em torno de R$ 2,5 milhões, diz Marcus Gilban. Um carro popular tem preço inicial na faixa dos R$ 80 mil. Serviços como faxina, reforma ou reparação também são caros, por causa do alto preço da hora trabalhada.
Em março deste ano, a revista “The Economist” colocou Tel Aviv como a décima cidade mais cara do mundo para se viver.
O salário mínimo no país é de 5,3 mil shekels israelenses, cerca de R$ 6 mil. A média salarial, em junho deste ano, ficou em torno de 11,2 mil shekels, cerca de R$ 12,7 mil.
Já outros serviços – como educação e saúde – custam menos que no Brasil. A escola pública custa entre R$ 600 e R$ 1,4 mil por ano, a depender do ano escolar da criança. Para a saúde, Marcus afirma gastar R$ 300 para uma família de 4 pessoas, pois os planos de saúde e odontológico são subsidiados pelo governo.
Além dos preços, também é preciso levar em conta fatores como as diferenças culturais.
“O choque cultural é muito forte — eles são mais práticos, mais diretos. A gente [brasileiro] leva como ofensa”, diz Allon. “Aqui todo mundo tem intimidade, se sente irmão. Eles gritam mesmo, se metem na vida do outro, mas é pra ajudar. Eles brigam, discutem, mas na hora do problema todo mundo se junta e se ajuda”, relata.
Acostumada com a França, Karen diz que ir para Ra’anana foi como voltar ao bairro onde morava no Brasil.
“Os franceses de forma geral são mais distantes, frios. Os israelenses são bem calorosos, são pessoas que acolhem, o tipo de educação é outro. Isso é uma semelhança com o brasileiro”, diz.
“Tudo na França era bem organizado, as pessoas seguiam as regras. Por aqui mudam as regras de uma cidade pra outra — por exemplo, sobre os documentos que você tem que apresentar para tirar uma carteira de motorista. Você tem que se adaptar a isso”, afirma.
Rafael acrescenta que outra característica do israelense é que ele “não está preocupado em agradar. Aqui, o pessoal vai fazer compras de pijama”, relata. O carioca diz que a família não sentiu um grande choque. Quando questionado se pretende voltar ao Brasil, a resposta de Rafael é convicta:
“O nosso arrependimento é de não ter vindo antes. A gente sente muita saudade de quem ficou — mas do local [Rio de Janeiro] não sente saudade nenhuma”.
G1Mundo



/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2019/s/1/gn8AByRvejYWHSEAzyZA/2019-10-17t090803z-642815552-rc121641b6d0-rtrmadp-3-germany-shooting-1-.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2019/3/W/FeHKiYRLyh3D2myWxy4w/whatsapp-image-2019-09-21-at-03.27.37.jpeg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2019/M/2/rNDsphQCqS0U1rVZj3nw/whatsapp-image-2019-09-19-at-15.43.25.jpeg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2019/O/A/Mn8UqbQPaBJy7bBBWjDA/fcq3o-brasileiros-em-israel.png)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2019/D/A/GmANv0RhSUDHJ6LCUaoA/img-20180901-042815433-burst000-cover-top.jpg)



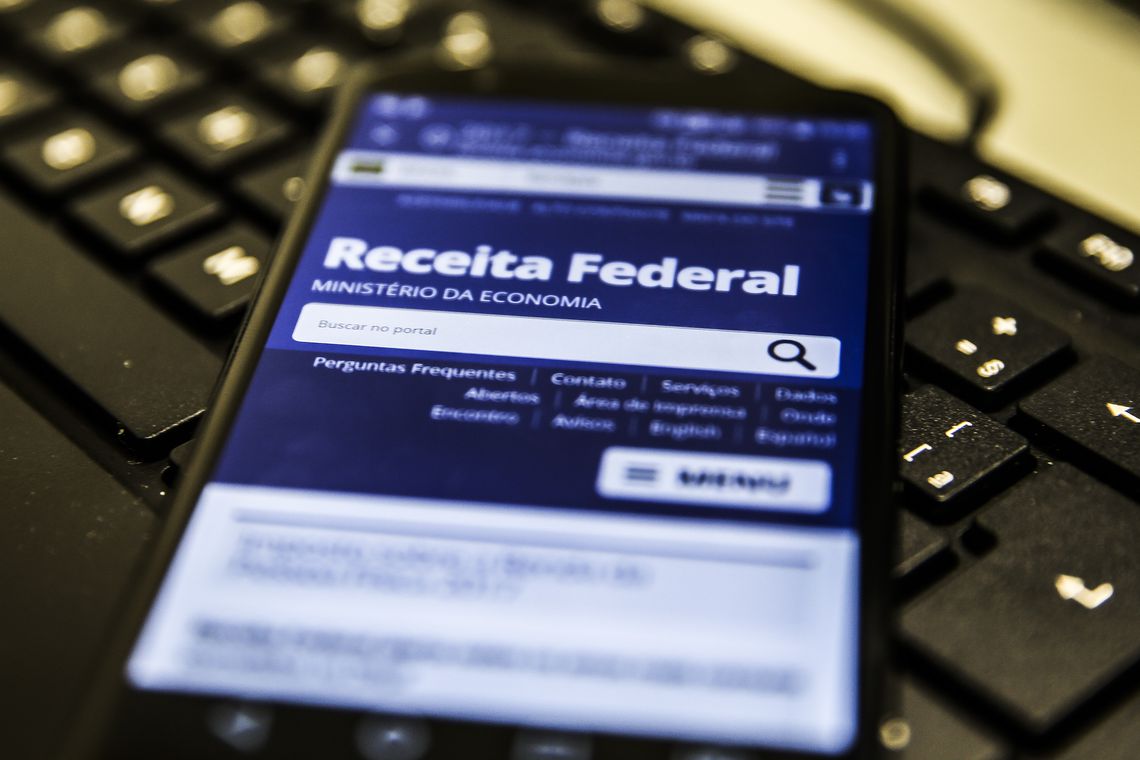



Discussion about this post